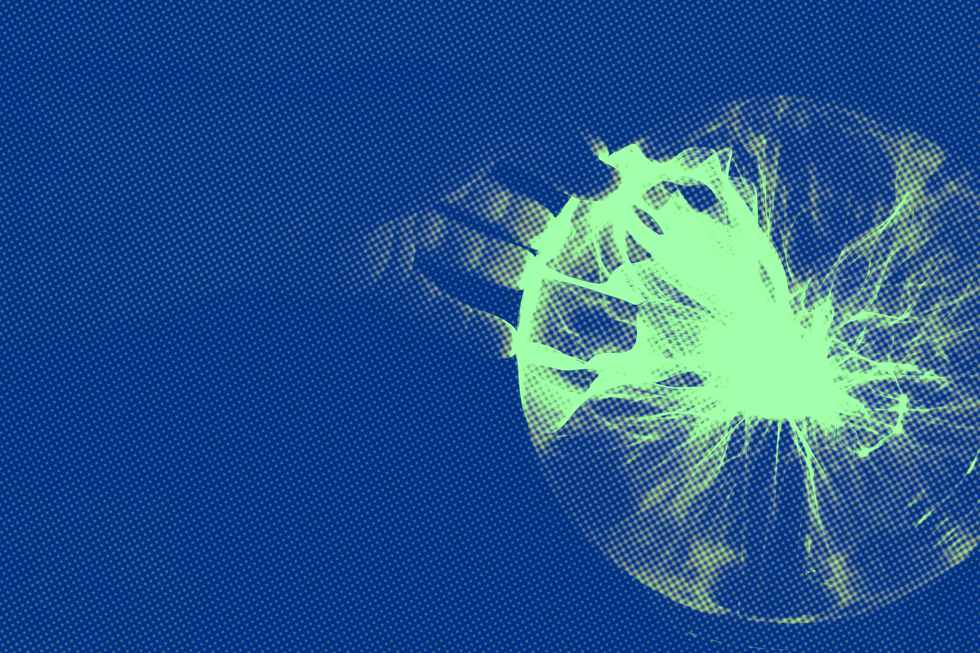
Alguns meses atrás, fui convidado a fazer uma palestra na Unicamp sobre o tema do “direito à ciência”. O convite me deixou intrigado: como assim, “direito” à ciência? O que isso poderia significar? Como metáfora, talvez fosse possível encarar a expressão como representando o direito universal aos benefícios do progresso científico – que, afinal, são patrimônio comum da Humanidade.
Só que sempre fui meio desconfiado em relação a floreios de linguagem que criam e multiplicam “direitos” de forma vaga e poética, deixando a interpretação ao gosto do freguês. Mas sempre fui, também, um grande admirador da Declaração Universal dos Direitos Humanos – cujo texto, a despeito do que dizem os detratores, é enxuto, claro e conciso –, e me lembrava de algo a respeito lá.
Não de modo tão explícito como os direitos à vida (“Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal” – Artigo 3) ou à liberdade (“Ninguém será mantido em escravidão ou servidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas” – Artigo 4), mas ali, em algum lugar.
Meu respeito pela Declaração Universal não tem limites. É quase inacreditável que tenha sido elaborada por animais da mesma espécie dos que se lambuzam no lamaçal do fascismo miliciano e gargalham diante de 600 mil mortes, mas assim é a natureza. Reproduzo aqui meus dois trechos favoritos do preâmbulo da carta:
“O reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana é o fundamento da liberdade, justiça e paz no mundo”.
“É essencial, para que o homem não seja levado, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão, que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei”.
Relendo o texto completo, encontrei o que procurava no Artigo 27, parágrafo primeiro:
“Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios”.
Creio que podemos desdobrar o trecho que grifei desse parágrafo em três princípios um pouco mais especificos:
1. Direito de acesso ao conhecimento científico, o que inclui o direito à Educação, definido no artigo anterior, o 26, da Declaração Universal, mas não se confunde e nem se limita a ele. Porque o acesso ao conhecimento deve ir além da educação formal: os fatos da ciência devem estar disponíveis para todos que desejem buscá-los, na escola e fora dela.
2. Direito de acesso à produção do conhecimento: todo aquele que desejar deve ter a oportunidade de fazer ciência, de colaborar com a produção do conhecimento. A porta deve estar aberta; e os interesses, curiosidades e preocupações dos cidadãos devem ser levados em conta na definição da política científica.
3. Direito e acesso aos benefícios do progresso científico. Este talvez seja o mais complexo e multifacetado dos três. Porque implica não só o óbvio, o acesso a tecnologias que tornam a vida humana mais longa e frutífera, ampliando o acesso aos demais direitos registrados da Declaração — tecnologias como vacinas, água tratada, internet —, mas também a expectativa de que os agentes públicos levarão o conhecimento científico a sério, ao formular suas políticas e ações.
Este ponto é, provavelmente, o mais crucial de todos: quando o formulador de políticas públicas ignora ou contradiz, de forma deliberada, o melhor conhecimento que a ciência disponível em seu tempo tem a oferecer, ele viola um direito humano fundamental de seu povo, a saber, o direito aos benefícios do progresso científico.
A ciência não pode ditar os valores que a ação política vai se propor a promover, ou as metas que ela vai buscar – esses temas são do domínio do debate público e democrático. Mas, a partir do momento em que os valores e metas estiverem dados, a ciência deve ser chamada. Ignorá-la nessa etapa é hipocrisia ou prevaricação.
Se o valor definido pela sociedade for, por exemplo, a preservação da vida humana em face a uma pandemia de vírus respiratório, o direito à ciência implica o direito de ficar em casa, às melhores condições de isolamento social possíveis; de ter acesso, o mais rápido possível, a vacinas comprovadamente seguras e eficazes. Viabilizar ambas essas condições seria o dever claro de um Estado que respeitasse o direito de sua população aos benefícios do progresso científico, tal como enunciado no artigo 27.
Considerações semelhantes podem ser estendidas a áreas como preservação ambiental, saúde pública, transporte, educação.
A comunicação eficaz da ciência — o direito de acesso ao conhecimento científico — é a condição necessária para que os cidadãos possam cobrar de seus governantes os benefícios plenos do conhecimento científico disponível. E saber se seu direito aos frutos do progresso científico não está sendo violado.
Manobras de negacionismo, disseminação de mentiras e meias-verdades vão no sentido contrário — de desarmar o cidadão do conhecimento de que precisa para perceber o que lhe está sendo subtraído. Uma coletividade corroída por negacionismo é uma coletividade que se deixa desrespeitar e violentar em um de seus direitos fundamentais.
A luta pelo pleno exercício do direito à ciência previsto no Artigo 27 é, ao fim e ao cabo, a luta e todo educador e de todo comunicador de ciência. E já que a provocação de refletir sobre esse direito me havia sido feita por uma universidade pública – a Unicamp –, tomo a liberdade de somar a ela uma reflexão que me foi solicitada por outra, a USP; mais precisamente, pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, a Famersp.
No início da última semana, fiz uma palestra para a Famersp. Haviam-me pedido que discorresse sobre o tema “A importância da divulgação científica profissional no combate à desinformação em tempos de pandemia”. Mais um título que me pôs a pensar.
A importância e a necessidade de uma comunicação de ciência correta, honesta, bem-feita, tornaram-se, afinal, fatos um tanto quanto autoevidentes, depois de tudo que passamos nos últimos 20 meses. Ainda mais quando vemos os efeitos do oposto disso: da comunicação ruim ou desonesta. É algo que poderia ser dito em dois minutos. Não valia uma palestra.
Mas uma palavra do título chamou minha atenção de modo particular. “Profissional”: definido como? O termo em si pode soar até preconceituoso. Dar a entender que divulgação científica, para ser boa, precisa ser feita por gente “de carteirinha”.
“Profissional”
Uma das coisas que a pandemia mostrou é que isso com certeza não é verdade. Teve muita gente “de carteirinha” — carteirinha de doutor, de professor, de pesquisador — falando bobagem, e muito trabalho amador que, por ter sido bem-feito, mostrou-se útil, necessário e, provavelmente, salvou vidas.
Mas há um sentido de “profissional” que creio, faz sentido aqui e realmente foi — é — importante no combate à desinformação. É no sentido de algo bem estruturado, dedicado e independente.
Definindo os termos. “Estruturado”: com acesso aos meios e recursos necessários para fazer um bom trabalho. “Dedicado”: tendo essa atividade como seu fim principal, não como algo que se faz nas horas vagas ou como complemento de alguma outra atividade. E “independente” por ter a divulgação científica ou, mais propriamente, a comunicação pública da ciência como atividade fim, principal, não como meio para atingir algum outro objetivo.
Esses pontos, principalmente os da dedicação e da independência, são, assim como a dimensão política do direito de acesso à ciência, cruciais e muitas vezes passam despercebidos.
A divulgação científica feita em universidades ou em centros de pesquisa associados a hospitais e grupos de saúde, por exemplo, quase nunca é um fim em si mesmo. Geralmente, serve aos interesses de promoção ou preservação da imagem da “firma”, ou mesmo ao engrandecimento pessoal dos indivíduos que detêm posição de destaque nessas instituições.
Nesse aspecto, a avaliação do interesse público – qual o conhecimento a que as pessoas precisam ter acesso para exercer a cidadania de modo responsável – sempre acaba tendo menos peso do que considerações de política interna e marketing institucional.
Em tempos normais, essa tensão entre o que realmente interessa ao público ouvir, e o que interessa à instituição que o público ouça, é até administrável; há até vezes em que se vê uma genuína convergência entre ambas as prioridades.
Situações de emergência como a que vivemos, onde a desinformação impera e custa vidas, no entanto, elevam a tensão ao ponto de ruptura. E aí caímos no velho dilema bíblico: não se pode servir bem a dois senhores.
Tradição corroída
Uma revolução que seria muito bem-vinda, e que o pós-pandemia poderia trazer para órgãos públicos ligados à ciência e à saúde, incluindo universidades, seria o estabelecimento de estruturas de comunicação científica de fato e de direito desvinculadas das hierarquias e dos deveres da comunicação de caráter institucional. Plenamente independentes.
O mundo das fake news, da pós-verdade, ou seja lá como se prefira chamá-lo, que já tínhamos instalado antes da COVID-19 atacar, vinha marcado por uma corrosão dos chamados indicadores indiretos de credibilidade.

Vivemos num mundo complexo. Para nos orientarmos nele, precisamos de sinalizações que nos indiquem em quem vale a pena prestar atenção, em quem é menos arriscado confiar. Esses são os indicadores indiretos: entre eles, encontramos sinais tão diversos quanto diplomas, títulos, jalecos brancos, gramática, tom de voz…
O sequestro de muitos desses indicadores pelo meio publicitário, a disseminação de teorias conspiratórias, o caos informativo trazido pelas redes sociais levaram a uma desvalorização abrupta dos sinais tradicionais de credibilidade. Eles já vinham sendo corroídos pelo uso constante, exagerado e cansativo como ferramentas de marketing, mas as redes sociais aceleraram e agravaram o processo.
Em reação a isso, um número cada vez maior de pessoas passou a desprezar esses indicadores de natureza universal e a dar mais peso aos indicadores de natureza tribal: laços de sangue, de fé, de afinidade política. É o mundo da realidade definida via Telegram ou WhatsApp.
Mas os indicadores antigos, que transcendem tribos — a marca dos grandes jornais, o bom nome das grandes universidades — ainda não perderam todo o valor. Este seria o momento de aqueles que ainda controlam o modo como esses emblemas de credibilidade são usados mobilizarem esse poder remanescente para algo além do autoelogio e da autocongratulação.
Seria ótimo se a universidade pública se dispusesse a emprestar nome, recursos e autoridade a estruturas profissionais — isto é, bem estabelecidas, dedicadas e independentes — de comunicação da ciência.
Elas poderão não só prestar serviços inestimáveis ao público, capacitando a cidadania a exercer seu direito à ciência, poupando recursos e saúde àqueles que, de outra forma, seriam seduzidos por falsas terapias via crendices que se pretendem científicas, como também seriam os contrafortes que ajudariam a sociedade a conter as novas marés de negacionismo que certamente virão.
Carlos Orsi é jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência, autor de "O Livro dos Milagres" (Editora da Unesp), "O Livro da Astrologia" (KDP) e coautor de "Ciência no Cotidiano" (Editora Contexto) e "Contra a Realidade" (Papirus 7 Mares)
