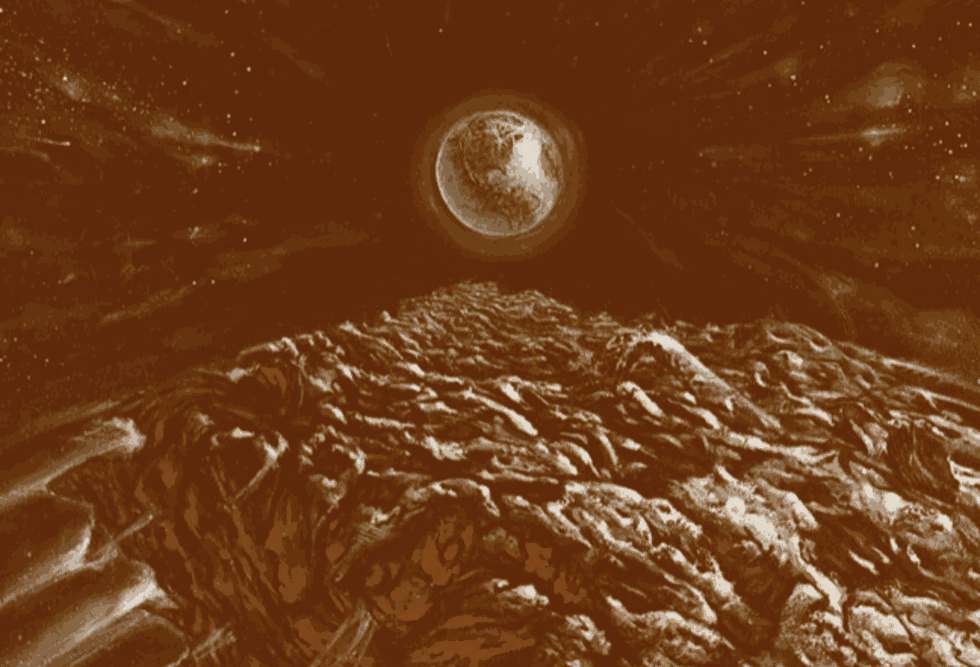
“Todo filme-catástrofe começa com um cientista sendo ignorado”. A observação, que circula como meme pelas redes sociais, pode muito bem servir de legenda para o longa-metragem da COVID-19 no Brasil, a caminho de uma sequência trágica produzida pela falta de uma gestão coordenada da crise pelo governo federal, somada a decisões errôneas de outras esferas administrativas que tiveram que assumir as rédeas. Com o país atravessando o pior momento da pandemia (até agora), autoridades seguem desprezando os repetidos apelos de especialistas por medidas mais rígidas para conter a disseminação da doença e, na contramão dos alertas, promovem relaxamentos precipitados, muitas vezes seguindo parâmetros equivocados, como a ocupação de leitos hospitalares, enquanto os números de casos e mortes permanecem em níveis altíssimos.
O primeiro capítulo da saga brasileira na pandemia apresentou o que seriam temas recorrentes do enredo: o negacionismo e o apelo a saídas “fáceis”, em geral na forma de um fictício “tratamento precoce” com remédios sem comprovação científica, como cloroquina e ivermectina. Da “gripezinha” à defesa destes inúteis, e perigosos, “kits Covid” e à promoção de aglomerações, o discurso oficial e as atitudes do presidente Jair Bolsonaro inibiram a adesão a medidas básicas de prevenção, como uso de máscaras e o distanciamento social, enquanto a omissão da liderança da União deixava, nas mãos de governadores e prefeitos, a imposição de restrições, como o fechamento de escolas e de atividades não essenciais, numa tentativa de conter o coronavírus.
Assim, o Brasil logo subiu o “planalto do fracasso”, registrando uma média diária de mais de mil vítimas fatais ao longo de junho a agosto de 2020.
Nem bem os números de casos e mortes começaram a cair, no entanto, as medidas restritivas também foram sendo “flexibilizadas”. Movimento instigado por pressão econômica, mas também apoiado em outra fábula, a de que o país estaria próximo de alcançar uma ilusória “imunidade de rebanho” ao SARS-CoV-2. Possibilidade que chegou a ser aventada por pesquisas como a que apontou que, em agosto do ano passado, cerca de dois terços dos moradores de Manaus já teriam sido infectados pelo vírus causador da COVID-19.
Publicado inicialmente como preprint em 21 de setembro de 2020, o estudo foi amplamente divulgado na mídia nacional, transmitindo a falsa ideia de que a epidemia poderia eventualmente chegar a uma resolução “natural” justo no momento em que, na “vida real”, a capital do Amazonas voltava a apresentar crescimento nos casos. Fenômeno que também provavelmente ajudou no surgimento e disseminação da que viria a ser conhecida como a “variante brasileira” do coronavírus, designada P1.
Notável ainda que em janeiro deste ano, quando da publicação da versão final do estudo sobre a “imunidade de rebanho” da cidade na prestigiada revista Science, o fenômeno, antes destacado como possibilidade no título do artigo em preprint meses antes, praticamente sumiu do texto, substituído pela expressão “taxa de ataque” e objeto de breves comentários sobre a necessidade de mais pesquisas para entender por que a imunidade coletiva natural não aconteceu.
Desta forma, escalando a partir do já elevado patamar do “planalto do fracasso”, a doença se alastrou pelo Brasil como queimada morro acima. Tendo como combustível extra as festas de fim de ano, os números de casos e mortes no país rapidamente voltaram aos níveis do pico anterior em julho, mas desta vez com cenas até então inéditas de colapso dos sistemas de saúde. A começar justamente por Manaus, com a falta de insumos básicos, como oxigênio para os pacientes, um primeiro sintoma de uma crise que se espalhou pelo país e inclui, entre outros, hospitais lotados e filas por leitos de UTI.
Ano novo
Passadas as festas de fim de ano e o carnaval, o Brasil enfrentou uma explosão nos registros da doença. A média móvel de novos casos disparou da casa de 45 mil em meados de fevereiro para mais de 75 mil por dia, enquanto a média de mortes diárias triplicou, chegando às mais de 3 mil atuais.
E agora, diante da lentidão na vacinação e do cenário de descontrole da COVID-19, nomes como a microbiologista Natalia Pasternak (presidente do Instituto Questão de Ciência e publisher desta revista digital), o neurocientista Miguel Nicolelis, a pesquisadora da Fiocruz Margareth Dalcolmo, o também microbiologista Átila Iamarino e diversos outros especialistas - como quatro ex-ministros da Saúde - voltam a pedir a imposição de medidas mais radicais de contenção da disseminação do vírus, incluindo um difícil, porém necessário, lockdown - com fortes restrições à circulação de pessoas e ao funcionamento de empresas e negócios para reduzir ao máximo a mobilidade e interação social - de modo a interromper as cadeias de transmissão o suficiente para romper o ciclo epidêmico, como mostra o exemplo recente do Reino Unido, que acaba de sair de seu terceiro e mais longo período de confinamento geral da população desde o início da pandemia.
Cálculos enganosos
Mas, tão importante quanto o rigor, adesão e respeito às medidas de prevenção coletivas e individuais, incluindo o uso correto de máscaras, é ter objetivos claros e parâmetros racionais de quando e como promover a flexibilização das restrições. Que devem passar longe das taxas de ocupação hospitalar e de leitos de UTI, indicadores muito observados e usados por governos estaduais e municipais de todo país para justificar mudanças nas suas “bandeiras”, “fases” ou outras denominações de seus estados de alerta sanitário, apontam especialistas e médicos na linha de frente de combate à COVID-19.
Para começar, o número de leitos, denominador desta equação, é uma variável maleável. Desde o início da pandemia, na expectativa de aumento da demanda, governos ao redor do país têm procurado abrir novas vagas, que muito propagandeiam como das suas mais importantes ações na crise. Processo que se acelerou junto com a explosão de casos nos últimos meses. Assim, num município ou estado onde a oferta de leitos de UTI dobrou na pandemia, por exemplo, falar de uma ocupação de 90% hoje na verdade significa uma superlotação de 180% num cenário normal, e uma queda na taxa nominal de agora de forma alguma reflete alívio suficiente do sistema de saúde para justificar o relaxamento de restrições.
"Ocupação de leitos é o pior indicador para se acompanhar uma pandemia, mas que infelizmente tem sido adotado por muitos governos desde o início da pandemia”, afirma Alexandre Zavascki, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e infectologista do Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA). “Você pode colocar um colchão no chão do hospital e ponto, não chegar aos 100% naquele momento. E ele também não diz nada sobre como estão os casos, o retrato real da situação da pandemia”.
Muito da expansão da oferta de UTIs se deu justamente por vivermos uma situação de desastre, com centros de tratamento intensivo improvisados em salas de cirurgia ou recuperação pós-operatória, por exemplo. Também não houve um crescimento proporcional das equipes, tampouco tempo para treinar os profissionais, com o atendimento muitas vezes sendo feito por pessoal não especializado, sem experiência prévia em UTIs ou mesmo médicos recém-formados, todos agora também exaustos física e emocionalmente após mais de um ano de mobilização em ambiente de crise. Contexto que contribui para que o Brasil apresente uma das maiores taxas de mortalidade de hospitalizados por COVID-19 no mundo, chegando a quase 80% dos pacientes entubados, muito acima dos cerca de 50% da média global.
"Porque não é só leito. É equipe, equipamentos, insumos, medicamentos”, lista Zavascki, que testemunha o problema na linha de frente do HCPA. “A sobrecarga hospitalar compromete todo atendimento, do paciente simples ao complicado. Se você tem o dobro, o triplo de pacientes para cada funcionário, é óbvio que não vai conseguir dar uma atenção igual a antes a cada um deles. Cai muito a qualidade do cuidado. Então, quanto maior a ocupação hospitalar, maior vai ser a mortalidade. Sem esquecer que são todos seres humanos lidando com outros seres humanos em uma situação limite, que só vai piorar à medida que a pandemia continuar a evoluir como está. Estamos muito sobrecarregados já”.
Por fim, ter como referência as vagas nos hospitais para decidir pela retomada de atividades nada ajuda a controlar a disseminação do vírus e, portanto, a pandemia em si, criticam os especialistas.
"A visão dos países que conseguiram controlar a COVID-19 é de que ela é uma doença prevenível, fazer com que as pessoas não se infectem”, avalia Zavascki. “Já no Brasil a visão parece ser de que não importa se as pessoas se infectem, desde que se possa recebê-las nos hospitais. Isso passa a mensagem errada para a população de que, enquanto houver leito, ela pode tocar a vida normalmente. Não estamos trabalhando com prevenção da doença, nem da morte, já que entrar no hospital não é garantia de sair, como mostram os números assustadores da mortalidade de internados no país”.
Parâmetros realistas
Zavascki recomenda que as autoridades se guiem, a princípio, pela uma média móvel da taxa de transmissão comunitária, medida em novos casos diários de COVID-19 por 100 mil habitantes. Além de um termômetro mais efetivo da dimensão da pandemia e da disseminação do vírus, ele vê a estatística como de mais fácil compreensão, e que permite a construção de metas claras e fáceis de comunicar, de forma a estimular a adesão e o apoio às medidas de restrição. Segundo ele, uma taxa moderada a baixa fica em torno de cinco novos casos por 100 mil habitantes, sendo que recomendações internacionais quanto ao funcionamento de escolas - que idealmente devem ser as primeiras a abrir e as últimas a fechar -, por exemplo, têm como limite máximo uma taxa de 10 por 100 mil.
"O Brasil, porém, praticamente não teve isso durante toda a pandemia”, lamenta o infectologista. “Aqui no Rio Grande do Sul sempre trabalhamos em torno dos 20 por 100 mil e na última semana estávamos em 38 por 100 mil. Mas isto porque a taxa está reduzindo, graças às últimas medidas de restrição. No recente pico, com os hospitais em colapso, chegamos a algo como 70 por 100 mil”.
Diante disso, Zavascki sugere começar com um lockdown geral para primeiro cortar drasticamente a atual taxa de transmissão comunitária no país.
"Medidas de restrição sempre vão reduzir o número de casos e, quanto mais severas, maior vai ser a velocidade desta redução”, explica. “A questão é que, com o sistema de saúde colapsado, precisamos que esta velocidade seja muito rápida, o que significa restringira muito as atividades, ou seja, um lockdown”.
Enquanto isso, o infectologista aconselha já preparar a população para um cenário pós-lockdown, definindo e comunicando limites a partir dos quais restrições voltariam a ser impostas de forma mais pontual e menos severa, desde que haja respeito a medidas básicas de prevenção e os números da pandemia não voltem a subir rapidamente. Segundo ele, a meta inicial nem precisa ser tão ambiciosa, tolerando algo como 15 novos casos por 100 mil habitantes, para ajudar a manter a adesão da população.
"Outro passo importante é aumentar a testagem”, acrescenta. “Testar mais significa que podemos ser mais específicos nas medidas de restrição, tirando logo de circulação muitas pessoas que são potenciais transmissoras, o que ajuda a manter os casos em baixa. É cortar o mal pela raiz, às custas de um amplo monitoramento e intervenção precoce com base em metas realistas e conservadoras. E nem estamos falando em menos de um novo caso por 100 mil habitantes por semana, como estão alguns países que já controlaram a pandemia. Aqui para nós, 10 casos por 100 mil habitantes por dia já seria motivo de comemorar”.
Alertas sem resposta
Zavascki, porém, não está otimista que os alertas dos especialistas venham a ser ouvidos pelas autoridades. O infectologista, por exemplo, no início deste ano se retirou do comitê científico que assessora o governo gaúcho, do qual fazia parte desde o início da pandemia, por considerar que as recomendações do grupo nem sequer eram levadas em conta pelos tomadores de decisão.
"Falei para o coordenador do comitê que não éramos absolutamente ouvidos pelo núcleo decisório do governo, e nossas recomendações não eram consideradas, então não via sentido em ficar e emprestar o nome para decisões de que muitas vezes não éramos comunicados, e ficávamos sabendo pela imprensa”, conta Zavascki.
“Do governo federal não espero nada, mas ainda vejo alguns governadores até tentando controlar a pandemia, e por pressão política e econômica seguindo esta visão de que enquanto tiver leito de hospital, tudo bem. Não é uma boa perspectiva. Ou mudamos os parâmetros e a visão dos governos sobre como funciona o combate a uma pandemia, entender que a métrica de casos é importante, dar um passo à frente com empresários e comerciantes, explicar que fechar agora vai ajudar a manter seus negócios abertos lá na frente, ou vamos seguir numa onda se sobrepondo à outra, num ciclo de abre, mais gente morrer, fecha de novo e subindo sempre de patamar”.
Cesar Baima é jornalista e editor-assistente da Revista Questão de Ciência
