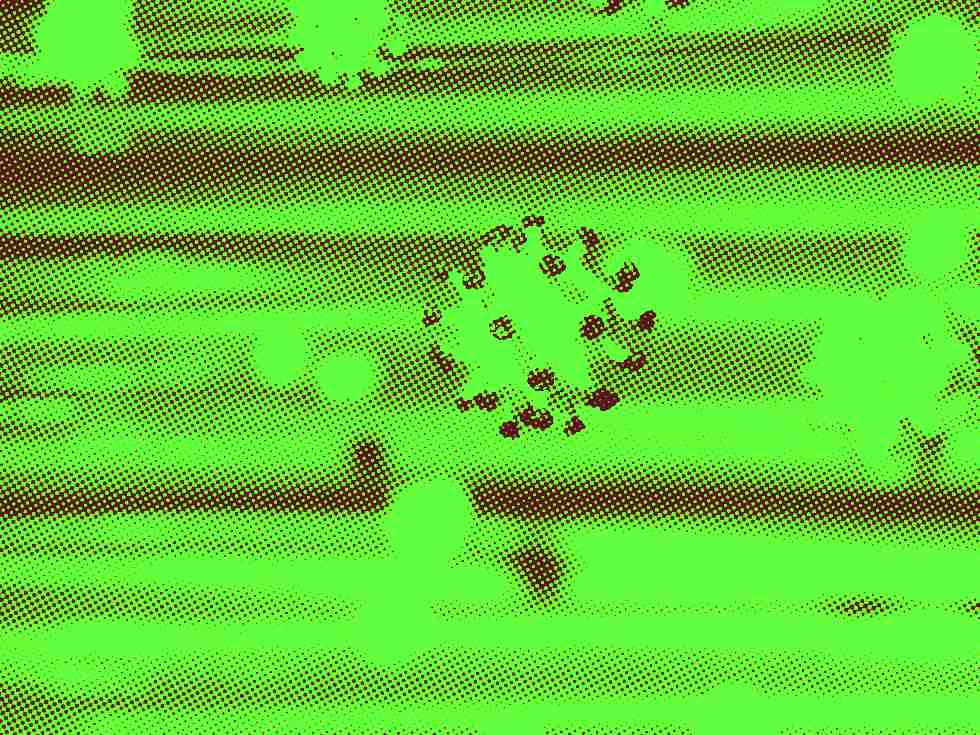
O primeiro sinal de que alguma coisa estava errada veio na quarta-feira, 14 de julho. Fui ao mercado, como sempre, por trás de duas máscaras, uma N95/PFF2 e outra de pano por cima, mas, pela primeira vez, me senti sufocada e, no carro, tirei as duas e meti a cara na janela aberta para poder respirar direito. Atribuí ao calor. Dia seguinte, me senti cansada, mas absurdamente cansada, de perder o fôlego de ir da geladeira até a pia da cozinha. Juntou o calor com a minha rinite de outono, é isso...
Na sexta, comecei a ficar seriamente preocupada: levantar de uma cadeira e do sofá exigia enorme esforço. Sábado, 17, estava aqui sentada diante do laptop e o ar sumiu. Coisa pavorosa, falta de ar. Por alguns instantes me veio a sensação das minhas antigas crises de pânico, sem ar, aquele peso no peito. E como veio, passou. De noite, assim do nada, outra falta de ar. Caramba, será que peguei Covid? Acordei às 5h08 de domingo, com nova falta de ar. De quem, diabos, peguei Covid?
No domingo ensolarado, minha amiga Ellen apareceu em casa com um oxímetro. Ambas achamos que estava quebrado, porque o troço não parava em número nenhum: 88, 95, 90, 83, 92, 87, 90... Bom, fomos para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) mais próxima. Sinceramente, achava que seria jogo rápido: já tinha tomado a primeira dose da vacina, não tinha febre, quem sabe a forma leve da doença. Foi aquele domingo que teria uma madrugada gelada, lembra? Mas fazia calor e saí de casa de jeans e camiseta... “A senhora sobe a escada ou pega a rampa...” Rampa? Escada? Com falta de ar? Uma alma caridosa me indicou um elevador. “Vira à esquerda, segue o corredor e vá até a recepção”. “Oi. Eu sou diabética e estou com falta de ar”, expliquei.
Rapidamente, me botaram numa cadeira de rodas e fui levada para a triagem, a pobre amiga tendo que fazer minha ficha. Pressão 17 X 11 (o meu normal é 12 X 8), novo oxímetro ensandecido e lá vou eu para ala de Covid, passando por corredores estreitos abarrotados de macas com pacientes sem Covid, eu na doce ilusão de que iam me dar algum remédio, fazer um RT-PCR e voltar para casa para esperar o resultado.
O covidário, porém, é espaçoso. Fui instalada numa sala ampla, com acessos para oxigênio, dividida por um biombo e tendo do outro lado um paciente grave, deduzo, pelos bipes do equipamento que o monitora e pelas constantes idas e vindas da equipe médica. Para mim, de novo o oxímetro tresloucado e vamos à anamnese. Vou respondendo nãos seguidos, menos para a pergunta “está vacinada?”. A médica me diz que sim, pode ser Covid, mas também pneumonia e várias outras coisas (“várias outras coisas” sempre me assusta, porque sempre faço uma longa lista de neoplasias). Então começamos por termômetro, exame de sangue arterial (extraído do meu dedão) para gasometria.
Fico ali atenta às conversas e bipes do paciente grave até que chega d. Dulcineia [todos os nomes foram trocados ao longo deste artigo], uma senhorinha com tosse e falta de ar há nove dias. Nove. Vou acompanhando a anamnese. Há alguns anos, d. Dulcineia perdeu um rim. “Tive uma inflamação, meu filho, uma infecção. Um troço lá e tiraram meu rim”, diz ao médico, enquanto me pergunto quando é que vão informatizar prontuários no SUS, onde não é raro que as pessoas mais simples não saibam explicar o que tiveram, nem dizer que remédios tomam e carregam sacolinhas ou pastas plásticas com todas as receitas e exames.
No covidário não se entra com nada, nem bolsa, nem celular, nem sacolinha e d. Dulcineia está aflita porque a sacolinha com seus remédios está com a filha, na sala de espera. “Não tomei vacina, não, porque não saio de casa e fiquei com medo dos efeitos colaterais”, explica. “Meus filhos levam tudo para mim em casa”, ela conta. Meu sangue gela. E congela quando médico, 8 anos de faculdade, diz: “É, d. Dulcineia, sacolinha de supermercado transmite muito a Covid, sabe?”.
Sacolas doentes
Oi?????????? Tenho duas sacolas grandes em casa, cheias de sacolinhas de mercado, padaria e farmácia e nunca nenhuma delas tossiu ou espirrou. Essa história de transmissão de Covid por embalagens caiu em janeiro! Perigoso é o entra-e-sai dos filhos da casa dela! O médico avisa que vai precisar internar, mas antes vai fazer alguns exames e falar com a filha. D. Dulcineia começa a chorar baixinho e me parte o coração. Ouve daqui, ouve dali descubro que só as pessoas que vão ser internadas fazem o RT-PCR e que não estou na lista do teste, mas na fila de espera por uma tomografia.
E vai chegando gente, como a Zelia, com sintomas há dias e histórico de problemas cardíacos. Teve febre reumática na infância e adulta, estenose mitral, com cirurgia para troca de válvula cardíaca em 1987. Em 2001, uma estenose aórtica e, durante a cirurgia, descobriu-se que a mitral precisa de nova troca. Passa bem de lá para cá, apesar de uma cirurgia de vesícula agendada. Não, não tomou a vacina porque teve medo que os tais “efeitos colaterais” causassem problemas. “Como assim?”, não resisto e pergunto. “Paciente cardíaco, grupo de risco! Por que não tomou a vacina?”. Ela me explica que a vizinha “passou muito mal” depois da vacina, ficou três dias de cama com muitas dores.
De repente, todos os bipes possíveis e imagináveis disparam atrás do biombo, a equipe médica corre para atender o paciente e ouço que é a oitava vez que ele vai ser ressuscitado, mas desta vez não adianta. Os médicos discutem quem vai avisar a família e o pessoal do nosso lado do biombo conversa normalmente, ou porque não se dá conta de que alguém ali ao lado morreu de COVID-19, ou prefere ignorar o ocorrido. São 16 horas e começa a esfriar; a tonta aqui saiu de casa numa manhã ensolarada de jeans e camiseta... Alguém sugere fechar as janelas e impeço afirmando que vamos ficar aglomerados numa sala fechada com SARS-CoV-2 alegres e felizes circulando no local.
Recém-chegada, d. Glória exibe sua larga experiência em internações em hospitais públicos: é bom levar travesseiro, cobertor e lençol e combinar com a família para levar refeições porque as do hospital são intragáveis. São. Alguém me levou um pote de algo com consistência e aparência de um mingau e uma quantidade generosa de açúcar e minha glicemia batendo em 350, não obrigada. Mais tarde, arroz (com pedrinhas), feijão, uma porção de vagens cinzentas e alguns legumes. D. Graça tem toda razão, intragável. Removido o cadáver, a equipe começa a retirar todo material que ele usava, inclusive os tubos. Todo mundo olha e desvia os olhos. Dois pacientes que estão internados na sala do outro lado vão ser trazidos para a área atrás do biombo, para dar lugar aos recém-chegados.
Eis que passa pelo corredor um senhor idoso, calças arriadas, camisa com botões nas casas erradas, todo sorridente como se desse um passeio. “Ei! O senhor não pode vir aqui! Onde o sr. está?”, pergunta um enfermeiro. “Eu estou aqui!”, responde o sorridente seu Serafino, que está sendo atendido numa das macas dos corredores e aproveitou a ida do acompanhante ao banheiro para o passeio. O enfermeiro pacientemente o leva para fora e sai em busca do local onde o paciente deveria permanecer quietinho.
Sangue no nariz
Nosso pequeno grupo é visitado pelo enfermeiro encarregado de obter amostras para o RT-PCR, que transforma o teste, que já é desconfortável, numa sessão de tortura: d. Dulcineia grita, batendo os pés no chão desesperada com a dor, enquanto o sujeito introduz o swab (aquele cotonete comprido) numa narina e depois na outra e diz que “precisa ser assim mesmo para extrair sangue, senão o teste não funciona”. Moço, se precisasse de sangue para o teste funcionar, bastaria uma amostra de sangue.
Após o exame, todo mundo fica com o nariz sangrando e eu decido que se precisar colher amostra faço sozinha, me deem um espelho e instruções, mas aquele cara não chega perto das minhas narinas! Depois do exame, Zelia, do meu lado, diz que a primeira coisa que vai fazer quando sair dali é tomar a vacina.
Às 18 horas, nova invasão do covidário. Desta vez é minha amiga Ellen, cansada de ouvir “aguardando exames” quando pergunta por mim e precisando ir para casa e me entregar minha bolsa, coisa que eu tinha pedido para as médicas horas antes. Bolsa entregue, fico imaginando quanto tempo vou ter de esperar pela tomografia. Enquanto isso, o frio aumenta e minha respiração incomoda um pouco mais. Fico com certa inveja de uma recém-chegada com bolsa e celular, com tosse e diabetes que descompensou, e marido esperando por ela no carro.
Ela fala com ele no viva voz, diz que ele pode ir embora, que já disseram que não é Covid e ela só vai esperar para ser medicada. “Eu não vou embora sem você de jeito nenhum, meu amor. Eu vou ficar aqui esperando,” diz ele. São evangélicos e ela, sorrindo, me conta que são casados há quatro anos e meio. “Ele é mais do que eu sonhei, é atencioso, carinhoso, me apoia sempre. Eu nunca pensei que ia ser tão feliz.” Sim, está vacinada, mas me diz que entende que as pessoas relutem em se vacinar. “A gente ouve e vê muita coisa contraditória no grupo da família, dos amigos, no trabalho e até na TV. Foi um especialista, acho que no Datena, e disse que os efeitos colaterais das vacinas são muito graves” (fiquei pensando em quem teria sido o sacripanta anti-vaxx).
Ela acabou fazendo uma pesquisa na internet, achou médicos recomendando a vacina e desaconselhando, mas optou pela vacina e, como ela é quem cuida da saúde de toda a família, fez todo mundo se vacinar.
Pouco depois de ela ir embora, fazemos uma pedido coletivo por cobertores. Um enfermeiro promete tentar encontrar, d. Dulcineia e d. Gloria já instaladas na sala do outro lado do corredor. São 21h30 quando me levam para a tomografia, passam por um corredor aberto para a rua de onde vem um vento polar e penso na possibilidade de escapar do hospital furtando o cobertor... E lá se vai o meu ar quando tento deitar no tomógrafo. Nova passagem pelo corredor aberto e gélido e estou novamente no covidário, agora com acesso de choro. Mais duas horas de espera pelo resultado, meia-noite de domingo, sem celular, não vai ter táxi, Uber ou ônibus para me levar para casa e tudo em que consigo pensar é numa sopa e na minha cama quentinha.
Rabo de jacaré
Há paciente novo no covidário, homem, 41 anos, caminhoneiro, com sintomas há 9 dias e – adivinhe? – não, não tomou vacina. Colocam o paciente na cadeira ao meu lado e não resisto: “Você não tomou a vacina por quê?”. “Fiquei com medo de ter algum efeito colateral na estrada”, explica. Não fosse o acesso de tosse do sujeito e teria perguntado tipo o quê? Fiquei imaginando o que poderia ser um efeito colateral que dá na estrada. Tontura? Convulsão? Ficar com voz fina? Sentir crescer no traseiro um rabo de jacaré? O que diabos será que as pessoas fantasiam como efeito colateral da vacina?
Porque, francamente, dor no local da aplicação, febrícola, dor de cabeça, dor no corpo, enjoo, cansaço não impedem ninguém de dirigir um caminhão até algum posto de parada. E essas reações, que podem ocorrer com qualquer vacina, são insignificantes diante da possibilidade de ter a doença, seja ela sarampo, gripe ou COVID-19, passar dias num hospital, ser intubado e até morrer. Ninguém ali era criança, todos adultos que tomaram vacinas na infância e até mais. De onde, demônios, veio esse “medo de efeitos colaterais”, que além de tudo passam em, no máximo, dois dias? É no acesso de tosse do caminhoneiro, já depois da minha terceira troca de máscaras, que me ocorre que estou cercada de pessoas com Covid também de máscara, mas a curta distância, que é capaz de eu pegar o SARS-CoV-2 ali, no covidário.
Duas horas depois, meia-noite, três médicos e dois enfermeiros vêm falar comigo e meu sangue gela. “Olha, seus plmões estão limpinhos, sem Covid, sem pneumonia”. Mas, onde está o mas? “Mas eles estão boiando num edema”. Oi? “Olha, eu vou pressionar a região do seu fígado para eles verem”. Foi bizarro. Imediatamente apareceu um calombo cheio de água no meu pescoço. “A senhora está com uma enorme retenção de líquido e isso pode ser uma coisa muito grave, insuficiência cardíaca congestiva”.
Já vi esse filme uns três anos atrás. Era verão, eu usava sandálias e meus pés inchados chamavam atenção de todos os médicos que eu entrevistava, que vinham com a mesma insuficiência cardíaca congestiva. “A senhora tem um coração perfeitamente normal”, me disse o médico após uma série de exames. “Deve ser microvascular”. E lá vamos nós de novo.
À meia-noite, eu louca para ir para casa, a equipe resolve pedir um hemograma completo. Agora? Não pediram antes? Sangue tirado, recebo de uma vez quatro injeções de furosemida, o popular Lasix: “Vamos secar a senhora”. Duas idas ao banheiro e eu já conseguia respirar fundo, feliz. Às 2 da manhã, pedem um exame de marcadores renais. Às 3 da madrugada, todos os companheiros de covidário estão devidamente instalados em seus leitos, me dão alta e explicam que precisam achar um local para eu ficar porque, como não tenho Covid, não posso ficar ali e ser contaminada... depois de 15 horas exposta ao tal coronavírus.
Ronco de rinoceronte
Minha confortável cadeira de rodas é estacionada no longo corredor cheio de macas numa área em que uma enfermeira atende aqueles que sequer a maca conseguiram. Três mulheres choram baixinho e não demoro para saber que as três sofrem de anemia falciforme, as três pedem morfina e fazem uma espécie de disputa para ver quem sofre mais e tem mais dor. Os demais são pacientes com infecção urinária ou crises renais. Um sujeito dorme esticado sobre três cadeiras e ronca feito uma manada de rinocerontes – se é que rinocerontes roncam.
Fico embrulhada no meu precioso cobertor, visível alvo de cobiça, torcendo para meus dois rins não se assanharem pelas próximas horas porque se o corredor está daquele jeito, imagine o banheiro. Dou mais uma espiada no roncador. A mulher do meu lado me conta que, pouco antes, o dorminhoco não parava quieto, perturbando todo mundo. “Aí alguém deu para ele um saco grande de salgadinhos de bacon, ele comeu tudo e dormiu”. Paciente renal comendo aquela montoeira de sal, vixi!
Cubro a cabeça com a coberta para evitar a luz e me isolar do local e acho até que cochilei, até ser acordada por um estrondo metálico e gritaria. Alguém comenta: “É seu Serafino aprontando de novo”. Olho para o corredor e vejo o mesmo cidadão que invadiu o covidário rindo, sentado no chão, com a maca que desabou atrás, e derrubou também a de outro paciente. Acompanhantes e enfermeiros correm para levantar os doentes e as macas, e limpar o chão onde se espalhou uma bolsa de urina. Volto a olhar para minha frente onde vejo um saco enorme de salgadinhos de bacon. “Quer?”, me oferece a gentil ocupante da cadeira ao lado. Recuso pensando no efeito de todo aquele sal em mim, a esponja humana, o edema ambulante. Olho para o relógio, 3h45, o tempo ali não passa.
Lá pelas tantas, percebo movimentação do pessoal do hospital. Troca de turno! Se tem gente chegando, tem gente saindo! Largo o cobertor, peço ajuda para me levantar e a enfermeira pergunta como vou para a rua se nem consigo me levantar sozinha. “Mas andar consigo”. Sigo pelo corredor, de jeans e camiseta, até chegar ao saguão onde tem uma rampa que dá para a rua escura e gelada. Não consigo me localizar, não sei em que rua saí (o hospital fica no meu bairro!) e sigo andando por três quarteirões. Do outro lado da rua há um ponto de táxi vazio e logo depois uma padaria aberta. Peço um espresso duplo, um pão de queijo e uma coxinha e, enquanto como, me dou conta que andei três quarteirões e não sinto a menor falta de ar! Quando saio da padaria, vejo um táxi e venho para casa. Enfim!
Vacina
Passei os dias seguintes fazendo três coisas: indo ao banheiro (quatro comprimidos de diurético por dia), observando se aparecia algum sintoma de COVID-19 e contando os dias para o 29 de julho, data da segunda dose da vacina. Outro dia frio, com um Sol que não esquentava nada e tome fila, com vários rostos e vozes de que eu me lembrava da fila da primeira dose, 6 de maio. E a mesma maluca que dia 6 dizia em alto e bom som que sabia de “fonte segura” que centenas de pessoas tinham morrido no teste da vacina X, estava lá de novo em alto e bom som contando que sabia de fonte segura que 1.237 pessoas tinham morrido por causa da mesma vacina aqui na capital. De que twitter as pessoas desencavam essas histórias eu não sei, nem quero saber, mas elas têm um prazer doentio em disseminar o “que sabem de fontes seguras” e, sim, fazem um estrago danado.
Também fazem estragos os governadorezinhos que anunciam festas, carnavais, a volta do torcedor aos estádios e “liberô” geral quando apenas 19% da população brasileira receberam as duas doses da vacina, centenas de milhares não aparecem pra tomar a segunda dose e semana sim outra também alguma capital interrompe a imunização por falta de vacinas. Estou vacinada com duas doses, mas não largo minhas máscaras e meu álcool gel enquanto não houver pelo menos 80% dos brasileiros vacinados com duas doses. Domingão no covidário, nunca mais.
Ruth Helena Bellinghini é jornalista, especializada em ciências e saúde e editora-assistente da Revista Questão de Ciência. Foi bolsista do Marine Biological Lab (Mass., EUA) na área de Embriologia e Knight Fellow (2002-2003) do Massachusetts Institute of Technology (MIT), onde seguiu programas nas áreas de Genética, Bioquímica e Câncer, entre outros
