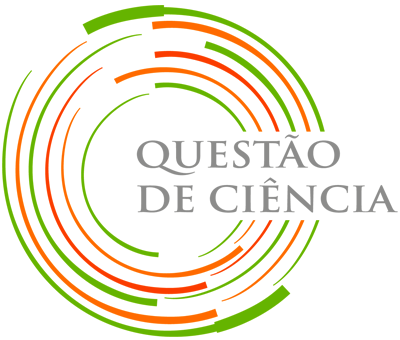A explosão da produção científica nas últimas décadas foi acompanhada por um aumento nos casos de má conduta. Da acirrada disputa por recursos limitados de financiamento de pesquisas à busca por prestígio acadêmico, passando por um sistema centrado no mote "publicar ou perecer" que premia mais a quantidade que a qualidade dos estudos, são muitos os fatores que levam alguns cientistas a lançar mão de atalhos metodológicos ou estatísticos, ignorar normas institucionais ou até a cometer fraudes deliberadas, falsificando experimentos e dados para ver seus nomes nas listas de autores em periódicos e nas manchetes dos jornais.
Embora alguns casos de má conduta científica ganhem notoriedade - como o do ex-médico britânico Andrew Wakefield, autor de um estudo fraudulento que associou a vacina tríplice viral (contra caxumba, rubéola e sarampo) a diagnósticos de autismo em crianças, e até hoje alimenta discursos antivacina -, grande parte passa longe dos olhos do público, e mesmo da comunidade acadêmica, muitas vezes surpreendida por retratações em massa de artigos de autores até então admirados e respeitados em seus campos.
Mas não basta dar mais publicidade a estas ocorrências. É preciso também mais transparência nas investigações, facilitando o acesso a informações e documentos, de forma a melhor guiar a implementação de políticas de combate à má conduta científica, defende a dupla de pesquisadores responsável pela criação do Retraction Watch, uma das principais ferramentas de monitoramento e divulgação de casos do tipo disponíveis hoje.
Em texto publicado recentemente no periódico Journal of Law, Medicine & Ethics, Ivan Oransky e Adam Marcus lembram instâncias em que a revisão externa de denúncias levou à punição de cientistas inicialmente eximidos em processos internos de suas instituições, e também pedem uma maior padronização dos procedimentos e relatórios sobre estas investigações, além da flexibilização de políticas de confidencialidade que muitas vezes dificultam ou impedem que casos cheguem ao conhecimento da comunidade científica e do público em geral.
"Relatórios de investigações institucionais, mesmo quando imperfeitos, servem como um sinal para o público e outros interessados sobre os potenciais problemas na academia", argumentam. "Independentemente do resultado das investigações, tanto o número quanto a natureza dos relatórios fornecem ao menos uma indicação parcial do que pode dar errado em esforços de pesquisa e uma linha de base do escopo destas questões".
Confidencialidade equivocada
Oransky e Marcus destacam que esta é uma questão importante especialmente na área biomédica. Eles citam estatística que aponta que quase 90% das alegações de má conduta neste campo nos EUA são descartadas sem que haja nem sequer uma investigação inicial, tampouco qualquer registro ou relatório junto ao Escritório de Integridade Científica (ORI na sigla em inglês), órgão do governo americano que monitora, supervisiona e desenvolve políticas de combate à má conduta científica ligada a temas de saúde. Assim, a grande maioria dos casos surge e se encerra em nível institucional, muitas vezes também sem progredir para qualquer tipo de investigação ou registro.
E mesmo quando registros existem, é raro que sejam tornados públicos, ou até acessíveis por via institucional. As instituições, algumas vezes, promovem batalhas jurídicas para mantê-los em segredo. Uma justificativa comum para isso, aponta a dupla, é a necessidade de preservar a identidade e privacidade dos acusados, seja por uma suposta determinação legal ou regulamentações próprias.
Embora reconheçam a necessidade de cautela diante do potencial prejuízo da divulgação de alegações falsas à reputação e carreira dos acadêmicos envolvidos, os pesquisadores argumentam que isso não deve se aplicar uma vez que os processos tenham sido encerrados e as acusações comprovadas - ou não. Ressaltam ainda que, apesar de os indivíduos parecerem os principais beneficiários desta confidencialidade, ela também serve às próprias instituições.
"De fato, as instituições têm tanto ou mais a ganhar com uma forte defesa do direito à anonimidade durante as investigações do que seus docentes ou funcionários", afirmam. "Elas têm um incentivo poderoso em controlar um fluxo de informação que pode ser prejudicial à sua reputação, e para evitar que terceiras partes - jornalistas, advogados, potenciais doadores, etc - conduzam suas próprias investigações de um caso de potencial má conduta".
Diante disso, Oransky e Marcus acreditam que o tratamento deste tipo de informação deve seguir o padrão do sistema judicial criminal, em que o devido processo legal está bem estabelecido e no qual a confidencialidade termina no momento em que uma acusação formal é apresentada diante de um tribunal.
"A importância da transparência para a preservação da confiança do público na ciência deve suplantar os objetivos restritos das proteções à privacidade individual", consideram.
O papel das publicações
Já os periódicos científicos têm tanto a contribuir com o aumento da transparência nas investigações sobre má conduta quanto a se beneficiar, avaliam os pesquisadores. O primeiro passo, apontam, é os avisos de retratação - frequentemente a única indicação pública sobre um possível caso de má conduta - informarem sobre a existência de uma investigação institucional, se for cabível. Eles frisam que isso é algo ainda raro, com estudos indicando que mais de 70% destes avisos são omissos neste sentido.
A dupla lembra que é do interesse dos periódicos - ao menos os mais respeitados e os não predatórios - corrigir a literatura científica o mais breve possível. Um sinal disso são as chamadas "expressões de preocupação", muitas vezes emitidas em resposta a alegações de má conduta antes mesmo da conclusão dos processos. Em alguns casos, porém, é a decisão do periódico que leva à revelação da existência de uma investigação, ou mesmo sua instauração.
"Os periódicos há muito tempo reclamam que muitas universidades relutam em compartilhar o que pensam ser informações relevantes, e esforços para melhorar a comunicação - incluindo a recomendação de que as instituições permitam aos periódicos citar relatórios de investigação - são bem-vindos", avaliam.
Padronização
Assim, outro ponto em que os periódicos podem colaborar é numa maior padronização dos relatórios de investigação de má conduta. Oransky e Marcus frisam que em razão das expressões de preocupação e retratações, os editores mantêm comunicações frequentes com as instituições, mas seus esforços em lidar corretamente com alegações de má conduta científica muitas vezes são frustrados por investigações também mal conduzidas, com resultados ambíguos e decisões infundadas ou, mais grave, processos extremamente lentos, que se arrastam por muitos anos ou permanecem inconclusos. Os editores, citam, podem "ajudar as instituições a produzir relatórios que considerem úteis para tomar as decisões apropriadas sobre manuscritos submetidos ou publicados que possam ter falhas graves".
De fato, a falta de padrões é um problema transversal na questão da má conduta científica, indo da própria definição do que constitui este tipo de falhas e seus diferentes graus de gravidade para os procedimentos de investigação e julgamento das alegações, punição dos responsáveis, correção da literatura e chegando à divulgação dos casos. Entre outros exemplos de iniciativas neste sentido, como o Concordat no Reino Unido e o agora substituído trio de comissões independentes sobre desonestidade científica do Ministério de Pesquisas e Tecnologia da Informação da Dinamarca, a dupla cita um estudo sobre o caso do Brasil.
O levantamento, publicado em 2021 no periódico Accountability in Research, buscou diretrizes de integridade científica de 60 grandes universidades e instituições de pesquisa brasileiras. Ao final, os pesquisadores obtiveram documentos relevantes de apenas 20 instituições, além de duas organizações de fomento, CNPq e Fapesp. A análise destes documentos mostrou uma grande heterogeneidade nas diretrizes de melhores práticas, falta de consistência na definição de má conduta e ausência de mecanismos formais para lidar com alegações de má conduta. Mesmo nas poucas instituições que tinham comitês específicos para integridade científica, "a maioria não tem informações claras e disponíveis sobre procedimentos de investigação e formas de punição".
Diante disso, ainda em 2018 Oransky e Marcus propuseram a criação de uma lista de referência com 26 itens para a padronização dos processos de má conduta e seus relatórios, incluindo informações sobre o escopo geral dos processos, a composição e práticas dos comitês de investigação, as evidências a que tiveram acesso, como estas evidências foram avaliadas e as conclusões a que chegaram.
Ruim para todos
A dupla considera que a falta de transparência alimenta uma lacuna no entendimento e elaboração de estratégias para melhorar a integridade científica e treinamento, uma tentativa fracassada de proteger a autoridade da ciência que é ruim para o público, cientistas, instituições de ensino e pesquisa e a própria ciência.
"A experiência recente sugere que, em muitos casos, a ciência está fracassando em se autorregular, priorizando os próprios interesses - da parte tanto das instituições quanto dos indivíduos - sobre a reforma", alertam. "A existência de esquemas como cartéis de citação, fábricas de artigos (paper mills), fraudes na revisão por pares e outros abusos são indicações claras de que muitos cientistas estão dispostos a tomar atitudes para enganar o sistema de publicação. A rápida intrusão da inteligência artificial na produção de artigos para periódicos representa talvez a maior ameaça à integridade científica até agora. Dada a história recente, não temos razões para sermos otimistas sobre o resultado disso".
Cesar Baima é jornalista e editor-assistente da Revista Questão de Ciência