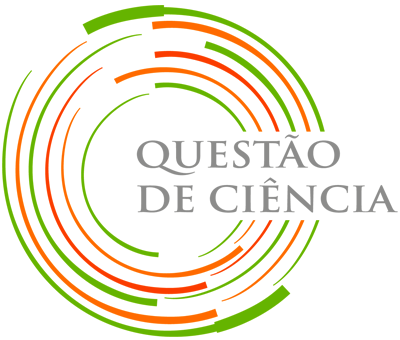Cena 1: A cena é silenciosa e desconfortável. O menino está sentado diante da psicóloga em uma sala de paredes pálidas dentro de uma instituição para menores. Ela tenta se aproximar, fazer contato visual, quebrar o gelo. Ele hesita. Sorri de lado. Seu olhar mistura carisma e raiva, charme precoce e revolta crua. Em segundos, sua fala alterna entre inteligência ácida, ressentimento profundo e explosões de fúria contida. A psicóloga se cala por um momento, visivelmente abalada. Aquilo ali não é apenas um adolescente difícil. É um garoto que carrega o peso de um mundo que o rejeitou antes que ele tivesse chance de escolher como seria visto.
Cena 2: Ele digita com raiva. Suas mãos tremem um pouco, mas o olhar fixo na tela brilha como se acabasse de entender o segredo do Universo. Em um fórum incel, escreve que as "Stacies" sempre zombaram dele. Que os "Chads" riram do seu corpo, da sua voz, da sua hesitação. Que agora, finalmente, ele sabe: eles todos pagariam com seu desprezo eterno. Ele não quer mais fazer parte do jogo. Quer ver o tabuleiro queimar. Há algo de eufórico em seu desabafo. Como se, por um segundo, ao nomear o algoritmo invisível da atração humana, ele se tornasse mais inteligente, mais consciente, mais real que todos. Mas quando fecha o navegador e levanta da cadeira, é como se o mundo o sugasse de volta para o fundo cinza da existência. Ele caminha até o trabalho e, no reflexo do metrô, quem ele vê não é mais o Neo conectado nas redes, é só mais um Mr. Anderson, invisível, pálido, irrelevante.
A recente minissérie da Netflix Adolescência tornou-se sucesso de audiência ao retratar os dilemas emocionais, afetivos e sociais de jovens imersos na cultura digital.
A palavra
A série acompanha um grupo de adolescentes que crescem num ambiente escolar cheio de bullying, desorganização e caos. Smartphones e redes sociais aparecem no centro da narrativa. Há professores visivelmente afetados pela hostilidade e distração dos jovens que não conseguem tirar os olhos da tela do celular; há pais que se perguntam "onde foi que eu errei". Confesso que a Lei de Gerson que impera na escola inglesa da série me engatilhou como professor (não me “engatilhou” de verdade, mas o termo está tão na moda que agora o usamos para tudo que causa perturbação emocional).
A série é interessante – apesar de terrivelmente lenta – e aborda temas da moda. Mas talvez não estivessem falando tanto dela se o roteiro não tivesse usado a palavra-chave incel.
Mas o que é um incel?
O termo "incel" é uma abreviação de involuntary celibate. Para explicar a origem desse termo, temos que voltar à década de 1990, à época da Revolta dos Nerds, e revelar uma história que não é sobre um menino com óculos fundo de garrafa, leitor de quadrinhos e aficionado por RPG. Estamos falando de uma menina, e ela se chama Alana. Mais especificamente, o termo data de 1997, quando Alana, uma estudante universitária sexualmente frustrada, criou um website para registrar suas dificuldades românticas.
Inicialmente, o website de Alana, chamado "Alana’s Involuntary Celibacy Project" (do qual ela fala tranquilamente em entrevistas internet afora), não era focado em gênero e era aberto a qualquer pessoa que tivesse dificuldades em encontrar parceiros românticos/sexuais. O site se tornou um tipo de grupo de apoio informal, com fóruns de discussão, compartilhamento de artigos e uma lista de e-mails, servindo a uma comunidade diversa.
Com o tempo, e especialmente após o atentado cometido na Califórnia por Elliot Rodger, que deixou seis mortos e mais de uma dezena de feridos, a ideologia do fórum mudou, desenvolvendo-se em uma subcultura exclusivamente masculina. Alana havia deixado o website nas mãos de outros membros e só descobriu a transformação do grupo após o atentado, e ficou chocada ao descobrir que o termo havia sido apropriado por comunidades misóginas.
Elliot Rodger
Elliot Rodger era um jovem de 22 anos, filho de um diretor de cinema de Hollywood. Diagnosticado com autismo na infância, enfrentava dificuldades crônicas de socialização e um sentimento crescente de inadequação sexual. Ele se descrevia como “sofisticado e educado”.
Em 2014, após anos de frustrações acumuladas — documentadas em vídeos no YouTube e em um manifesto de 141 páginas chamado My twisted world: the story of Elliot Rodger, que enviou por e-mail aos pais e ao psicoterapeuta, num gesto que me lembrou de Ted Kaczynski, o Unabomber —, Elliot assassinou seis pessoas e feriu outras 14 na cidade de Isla Vista, Califórnia, antes de tirar a própria vida.
Em seus vídeos, falava com amargura sobre as mulheres que nunca o desejaram (as Stacies) e os homens que, segundo ele, roubavam sua felicidade (os Chads). Declarou estar iniciando uma “Rebelião Incel”. Desde então, seu nome virou referência (e até ícone) em fóruns incels, sendo apelidado de “Saint Elliot” por fãs. Seu ataque marcou o início da atenção pública e acadêmica para o movimento.
A repercussão
Antes de assistir a Adolescência, ouvi comentários de que o menino protagonista era um "nerd tóxico", "estranho", "revoltado", "ressentido", "autista" e "psicopata". Esses dias li que incels são homens desinteressantes viciados em games ou quadrinhos. É quase sempre da mesma forma que a mídia se refere aos incels. São ridicularizados e desqualificados. Curiosamente, assassinos seriais nunca são vistos assim, tampouco terroristas domésticos esquisitões como Kaczynski. O modo como são vistos pelo público corresponde exatamente às queixas iniciais que levam a maioria desses jovens ao isolamento e à revolta silenciosa, e a minoria à revolta histriônica.
O incel virou uma figura ambígua, ao mesmo tempo ridicularizada e considerada uma grande ameaça. É como se todos acreditassem que esses nerds ressentidos não são de nada mas, ao mesmo tempo, representam uma ameaça à segurança nacional. Não estou sendo irônico. Em 2022, o Serviço Secreto dos Estados Unidos descreveu o “extremismo misógino dos incels” como “ameaça nacional” (!).
Pesquisas que analisam fóruns online frequentados por incels identificam um discurso misógino e hostil, com metáforas de desvalorização e desumanização sendo bastante comuns. Está claro que para eles as mulheres são um objeto de desejo e, ao mesmo tempo, de ressentimento. Nesses espaços, mulheres são frequentemente chamadas de “Stacies” (superficiais e promíscuas), “foids” (“female humanoid”) ou ainda de “roasties” (termo ofensivo associado à sexualidade). Há uma visão conspiratória do comportamento feminino: mulheres são retratadas como manipuladoras, interesseiras e falsas.
Uma linha de pesquisa recente utiliza a Belief in Female Sexual Deceptiveness Scale (BFSD) para mensurar essas crenças. Essas pesquisas partem da premissa de que a crença na “falsidade sexual feminina” é um componente da masculinidade hostil e pode levar a sistemas de crenças que facilitam a agressão sexual. Mais especificamente, a escala avalia até que ponto os participantes acreditam que as mulheres fingem interesse sexual, usam o sexo para obter vantagens e sabotam emocionalmente os homens. Incels pontuam significativamente mais alto nessa escala do que outros grupos.
Se você é mulher, não é agradável descobrir que existem fóruns destinados a falar mal "de você". Não é legal saber que um grupo de homens difama mulheres e fermenta planos vingativos. Mas será que há mesmo "risco à segurança nacional"?
Para responder a essa pergunta precisamos recorrer às evidências.
Incels e terroristas
É comum que incels sejam retratados na mídia como sujeitos perigosos, potencialmente violentos, mentalmente instáveis e prontos para transformar sua frustração em atentados. Mas será que esse estereótipo se sustenta quando contrastado com o que a psicologia já sabe sobre terroristas e assassinos em massa?
Segundo o FBI, terrorismo é o uso ilegal da força ou da violência contra pessoas ou propriedades para intimidar ou coagir uma população civil, ou para influenciar a política de um governo através de violência, motivado por objetivos políticos ou sociais. Quando analisamos quem são esses terroristas na prática, no entanto, encontramos algumas surpresas. A prevalência de transtornos mentais em terroristas está em torno de 20% a 30%. Isso significa que esse grupo não apresenta mais problemas de saúde mental que a população em geral. Estudos sobre terrorismo clássico mostram que a maioria dos terroristas ideológicos (jihadistas, supremacistas, eco-extremistas) não apresenta transtornos mentais graves. Pelo contrário, eles costumam ser escolarizados, além de ideologicamente motivados, com forte senso de identidade grupal e missão moral.
Assassinos em massa, como os autores do massacre de Columbine, o atirador de Sandy Hook, ou o de Parkland, são, em geral, jovens homens brancos, socialmente isolados, com histórico de bullying (e às vezes de bullies), depressão ou traços paranoides. Por exemplo, entre os assassinos em massa sobreviventes, diagnósticos de transtornos psiquiátricos são comuns: esquizofrenia aparece como o mais prevalente, seguida por transtorno bipolar tipo I, transtornos delirantes persecutórios e transtornos de personalidade (paranoide e borderline). Entre os casos fatais, a esquizofrenia também é o diagnóstico mais frequente. Importante notar que, na maioria desses casos, os indivíduos diagnosticados não estavam sob tratamento medicamentoso no momento dos ataques. Apesar desses dados, vale enfatizar que na população em geral a ligação entre histórico de violência e transtornos é fraca.
Quando observamos atentamente, é inegável que incels compartilham algumas características psicológicas e comportamentais com assassinos em massa. Ambos os grupos tendem a apresentar isolamento social intenso, sentimentos de depressão e desesperança, ressentimento contra o mundo, angústia suicida e, frequentemente, uma masculinidade fragilizada. Estudos como o de Peter Langman (Why Kids Kill, 2009) mostram que essas são características recorrentes em atiradores escolares, especialmente entre aqueles classificados como “traumatizados” — ainda que, nesse grupo, o trauma costume vir do ambiente familiar, e não escolar. Um relatório federal norte-americano, por sua vez, aponta que não existe um perfil psicológico único para school shooters, reforçando a ideia de que essas características são tendências, não determinismos.
Apesar dessas semelhanças, existem diferenças cruciais que não podem ser ignoradas. A principal delas é que os incels, em sua maioria, não manifestam impulsos violentos direcionados a terceiros. Estudos recentes revelam que o perfil médio do incel é marcado por altos níveis de ansiedade, depressão, baixa autoestima e ideação suicida, mas baixa incidência de traços psicopáticos ou narcisistas — características muito mais comuns em assassinos em massa.
Muitos incels expressam, em vez de ódio militante, um niilismo profundo, voltado tanto contra si mesmos quanto contra o mundo. Niilismo e autodestruição podem ser produtos da mente solitária, desejante por intimidade emocional e reconhecimento social, como parece ser a dos incels, contrastando com o desprezo generalizado típico de agressores massivos. Enquanto o assassino em massa geralmente busca notoriedade ou vingança explícita, o incel médio parece preso em um ciclo de autoexclusão, ruminação e desespero silencioso.
O chamado “lobo solitário” — termo midiático para o terrorista que atua sem conexão formal com organizações — é geralmente retratado como isolado, imprevisível e letal, o que já marca uma diferença importante em relação aos incels. A literatura científica, porém, oferece um retrato mais nuançado: embora quase sempre homens, esses indivíduos não formam um perfil demográfico único. Uma revisão sistemática aponta que compartilham traços como ressentimento intenso, sensação de injustiça, maior prevalência de transtornos mentais que terroristas de grupo, ficha criminal e interesse por armas. Há dois perfis principais: o “desconectado-desordenado”, associado ao isolamento e sofrimento psíquico, e o “compelido-afetivo”, movido por empatia intensa por vítimas simbólicas. Embora carreguem a marca do isolamento, muitos mantêm vínculos online com subculturas extremistas. Ainda que o radicalismo ideológico seja central, eles geralmente só agem quando encontram meios e oportunidade — ao contrário dos incels, cuja dor raramente se transforma em planos violentos concretos.
Muito se fala do risco dos incels à segurança nacional, mas a verdade é que esses homens tendem a representar mais um risco para si mesmos do que para os outros. Os níveis de ideação suicida alarmantemente altos entre eles, ultrapassando a média masculina da população geral, podem ser uma evidência disso. Isso faz sentido considerando outros estudos que mostram que incels vivem num estado psíquico de autoexclusão e abatimento existencial, onde o desejo de desaparecimento social é quase tão comum quanto a raiva projetada. A dor, nesses casos, é menos explosiva do que implosiva — e, frequentemente, silenciosa.
Isso não os torna inofensivos, mas mostra que não se encaixam facilmente na categoria "ameaça terrorista". Tratá-los assim pode ser mais reflexo do medo coletivo do que da evidência empírica.
E o que fazer?
Se não são terroristas em potencial, se não formam células extremistas nem constituem uma organização armada, mas ao mesmo tempo vivem em comunidades online recheadas de misoginia, dor e niilismo, então o que fazer?
Essa é a pergunta mais difícil — e a mais urgente. A resposta talvez tenha menos a ver com punição e mais com acolhimento clínico. O sofrimento dos incels é real, ainda que expresso de forma repulsiva. Eles se ressentem, odeiam, projetam fantasias violentas. Mas tudo isso nasce de um núcleo de rejeição afetiva, exclusão social e carência simbólica.
O sofrimento é real
O sofrimento masculino, especialmente quando não se encaixa em estereótipos tradicionais, é frequentemente ignorado, ridicularizado ou tratado com frieza. Esse desprezo sistemático ajuda a alimentar os mesmos espaços de ressentimento e niilismo que depois passamos a temer.
Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) mostram que o suicídio é a principal causa de morte entre homens de 15 a 44 anos em diversos países ocidentais, superando acidentes de trânsito e doenças crônicas. Esses números não apenas revelam uma tragédia silenciosa como também expõem a negligência institucional com que o sofrimento masculino é tratado. O sofrimento emocional masculino é frequentemente subnotificado, ignorado ou enquadrado como falha de caráter.
Em vez de receber escuta e acolhimento, homens que sofrem tendem a ser vistos como fracos, instáveis ou perigosos. A OMS já alertou para o fato de que políticas de saúde mental negligenciam sistematicamente a especificidade do sofrimento masculino, que muitas vezes se expressa de forma diferente da feminina — mais silenciosa, mais raivosa, mais autodestrutiva.
Outro aspecto pouco discutido é o modo como o sofrimento masculino é ridicularizado em público. Homens que sofrem por rejeição afetiva, baixa atratividade, isolamento sexual ou falta de pertencimento raramente são tratados com empatia. Costumam ser vistos como “reclamões”, “problemáticos” ou mesmo “potenciais ameaças”. Isso reforça o que o psicólogo Rob Whitley, que se especializou no sofrimento psíquico masculino, chama de dupla invisibilidade: homens não apenas sofrem, mas também são desautorizados a expressar esse sofrimento.
Isso nos ajuda a entender por que muitos incels não buscam ajuda, e por que, quando o fazem, são incompreendidos. Não choram em público. Eles se recolhem, se isolam, digitam em fóruns. Parte do que chamamos de "misoginia incel" talvez seja uma forma deturpada de pedir socorro — uma dor legítima que encontrou um canal ilegítimo.
E quanto mais essa dor é ridicularizada ou ignorada, mais ela fermenta nos cantos escuros da internet. Por isso, talvez a pergunta não seja “o que há de errado com eles?”, mas “o que há de errado com a forma como lidamos com o sofrimento dos homens?”.
Ignorar os incels só os empurra mais para o fundo das câmaras de eco online onde seu ódio é validado e sua dor, estetizada. E parte desse sofrimento se torna ainda mais agudo porque os homens não apenas são ensinados a não parecerem fracos — demonstrar vulnerabilidade é, para muitos deles, socialmente arriscado. Mostrá-la pode resultar em perda de respeito entre seus pares, humilhação pública ou, ainda, em ser considerado menos atraente.
É possível propor intervenções psicossociais que atuem nos próprios ambientes digitais onde incels se agrupam. Apoio psicológico, programas de educação afetiva, promoção de pertencimento comunitário e diálogo honesto sobre masculinidades são caminhos possíveis. Não para “consertar” esses homens, mas para reabrir canais de vínculo com o mundo.
O espelho da ficção
A série Adolescência começa com uma batida policial numa casa para levar sob custódia um menino que depois se defronta com uma psicóloga. Terminamos este texto talvez olhando para o mesmo menino — mas agora crescido, digitando em fóruns com raiva, ressentimento e solidão. A ficção serviu como espelho. Mas é na realidade que precisamos nos mover.
Esse fenômeno chamado "incel" não é só um subproduto da internet nem uma moda importada. É uma expressão distorcida e radicalizada de dores reais, que envolvem exclusão, identidade, sexualidade e pertencimento. O erro é tratá-lo como aberração isolada, como se não fosse sintoma de algo mais profundo.
Os incels talvez sejam a ponta visível de um iceberg mais extenso: a masculinidade afetivamente desnutrida que nossa cultura insiste em criar e depois condenar.
Felipe Novaes é psicólogo e professor da PUC-Rio. Divulga o melhor da psicologia científica no Garagem Psi. Atua no cruzamento entre ciência, filosofia e cultura, onde dados e mitos se estranham com frequência. Interessa-se por psicologia evolucionista, história das ideias e pela tensão entre razão e pertencimento em tempos de algoritmo